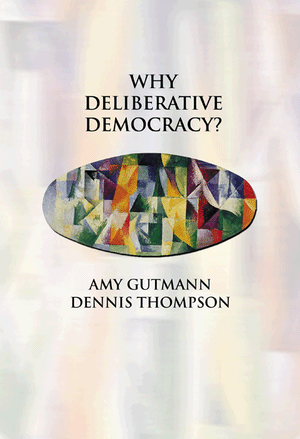"A Moralidade do Terrorismo e a Teoria da Guerra Justa
Embora a bibliografia sobre o terrorismo esteja constantemente a crescer, pouco tem sido escrito sobre a moralidade do terrorismo; talvez porque os escritores tenham dado como garantido que o terrorismo é um flagelo, sempre moralmente repreensível e errado: observe-se por um instante a associação que habitualmente se faz entre terrorismo e assassínio. […]
Este não é um começo auspicioso para a avaliação moral do terrorismo. Do facto dos actos terroristas, incluindo a morte de vítimas imediatas, serem proibidos na maior parte, senão em todos os sistemas legais, não se segue que tais actos sejam moralmente errados. Ao chamar “assassinato” às mortes terroristas está-se a fugir às complexas questões éticas envolvidas…
Saber (…) se alguns actos terroristas (…) são moralmente justificáveis é uma questão importante que será discutida relativamente à teoria da guerra justa. […]
As condições tradicionais da guerra justa são de dois tipos: as condições que justificam a guerra (jus ad belum) e as condições da condução justa na guerra (jus in bello). Uma das suas condições fundamentais é que:
A destruição da vida e da propriedade, mesmo da vida e da propriedade do inimigo, é inerentemente má. Segue-se que as forças militares não devem provocar mais destruição do que aquela que é estritamente necessária para alcançar os seus objectivos. (Veja-se que o princípio não diz que tudo o que é necessário é permissível, mas que tudo o que é permissível deve ser necessário). Este é o princípio da necessidade: a destruição cruelmente destrutiva é proibida. O princípio da necessidade especifica, mais precisamente, que uma operação militar é proibida se houver alguma operação alternativa que cause menos destruição, mas que possua a mesma probabilidade de produzir um resultado militar bem sucedido.[1]
Uma outra condição fundamental é o princípio da discriminação ou da imunidade dos não-combatentes, que proíbe o dano deliberado – sobretudo a morte – de pessoas inocentes. Em A teoria da Guerra Justa, William O’Brien define esta condição como o princípio que proíbe ataques directos intencionais a não-combatentes ou a alvos não-militares”[2], e Douglas Lackey, em A Ética da Guerra e da Paz, caracteriza-o como “a ideia de que (…) a vida e a propriedade civil não devem estar sujeitas à força militar: a força militar deve dirigir-se apenas a objectivos militares”[3]. Uma terceira condição fundamental é o princípio da proporcionalidade “aplicado a fins militares discretos”[4]. Esta condição é definida por William O’Brien como a “obrigação de adequar a proporcionalidade dos meios aos fins políticos e militares”[5]. Ou, como defende Lackey, é a ideia de que a “quantidade de destruição permitida na perseguição de um objectivo militar deve ser proporcional à importância do objectivo. Este é o princípio militar da proporcionalidade (que se deve distinguir do princípio político da proporcionalidade na jus ad bellum).”[6]
A minha alegação é que estes três princípios, devidamente modificados e adaptados, são aplicáveis por analogia a todos os tipos de terrorismo e que estes os violam a todos de forma flagrante. Com efeito, todos os tipos de terrorismo, excepto o terrorismo moralista/religioso, violam uma outra condição da teoria da guerra justa. Refiro-me à primeira e mais importante condição da jus ad bellum e a uma das mais importantes condições da guerra justa em geral: a condição da causa justa. […]"
Embora a bibliografia sobre o terrorismo esteja constantemente a crescer, pouco tem sido escrito sobre a moralidade do terrorismo; talvez porque os escritores tenham dado como garantido que o terrorismo é um flagelo, sempre moralmente repreensível e errado: observe-se por um instante a associação que habitualmente se faz entre terrorismo e assassínio. […]
Este não é um começo auspicioso para a avaliação moral do terrorismo. Do facto dos actos terroristas, incluindo a morte de vítimas imediatas, serem proibidos na maior parte, senão em todos os sistemas legais, não se segue que tais actos sejam moralmente errados. Ao chamar “assassinato” às mortes terroristas está-se a fugir às complexas questões éticas envolvidas…
Saber (…) se alguns actos terroristas (…) são moralmente justificáveis é uma questão importante que será discutida relativamente à teoria da guerra justa. […]
As condições tradicionais da guerra justa são de dois tipos: as condições que justificam a guerra (jus ad belum) e as condições da condução justa na guerra (jus in bello). Uma das suas condições fundamentais é que:
A destruição da vida e da propriedade, mesmo da vida e da propriedade do inimigo, é inerentemente má. Segue-se que as forças militares não devem provocar mais destruição do que aquela que é estritamente necessária para alcançar os seus objectivos. (Veja-se que o princípio não diz que tudo o que é necessário é permissível, mas que tudo o que é permissível deve ser necessário). Este é o princípio da necessidade: a destruição cruelmente destrutiva é proibida. O princípio da necessidade especifica, mais precisamente, que uma operação militar é proibida se houver alguma operação alternativa que cause menos destruição, mas que possua a mesma probabilidade de produzir um resultado militar bem sucedido.[1]
Uma outra condição fundamental é o princípio da discriminação ou da imunidade dos não-combatentes, que proíbe o dano deliberado – sobretudo a morte – de pessoas inocentes. Em A teoria da Guerra Justa, William O’Brien define esta condição como o princípio que proíbe ataques directos intencionais a não-combatentes ou a alvos não-militares”[2], e Douglas Lackey, em A Ética da Guerra e da Paz, caracteriza-o como “a ideia de que (…) a vida e a propriedade civil não devem estar sujeitas à força militar: a força militar deve dirigir-se apenas a objectivos militares”[3]. Uma terceira condição fundamental é o princípio da proporcionalidade “aplicado a fins militares discretos”[4]. Esta condição é definida por William O’Brien como a “obrigação de adequar a proporcionalidade dos meios aos fins políticos e militares”[5]. Ou, como defende Lackey, é a ideia de que a “quantidade de destruição permitida na perseguição de um objectivo militar deve ser proporcional à importância do objectivo. Este é o princípio militar da proporcionalidade (que se deve distinguir do princípio político da proporcionalidade na jus ad bellum).”[6]
A minha alegação é que estes três princípios, devidamente modificados e adaptados, são aplicáveis por analogia a todos os tipos de terrorismo e que estes os violam a todos de forma flagrante. Com efeito, todos os tipos de terrorismo, excepto o terrorismo moralista/religioso, violam uma outra condição da teoria da guerra justa. Refiro-me à primeira e mais importante condição da jus ad bellum e a uma das mais importantes condições da guerra justa em geral: a condição da causa justa. […]"
[1] Douglas P. Lackey, The Ethics of War and Peace (Englewoods Cliffs, NJ, 1989), 59. Itálico no original.
[2] William O’Brien, “Just-War theory”, in Burton M. Leiser, Liberty, Justice, and Morals, 2nd ed. (New York), 39. Esta secção é em larga medida a reprodução das secções III-IV de H. Khatchadourian, “Terrorism and Morality”, Journal of Applied Philosophy, 5, nº 2 (1958), 134-143.
[3] Lackey, Ethics, 59.
[4] Ibid., 37.
[5] Ibid., 30.
[6] Ibid., 59. Itálico no original.